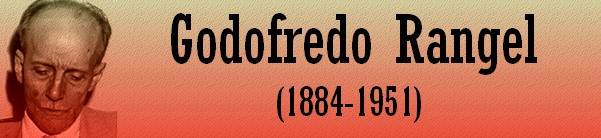Antigamente, no tempo dos bugres, certo caçador que andava com outros pelo mato atirou a um macuco encontrado perto de um córrego sem nome. Daí por diante todas as vezes que os caçadores queriam se referir ao dito córrego, diziam: "O Córrego do Macuco". Por essa forma, o nome da ave passou para a água corrente, foi ficando e ficou até hoje.
Tempos depois, um roceiro, que veio de longe, comprou terras servidas pelo Córrego do Macuco, e ali fez uma casa — casa de pobre — para sua obrigação: a companheira e mais cinco crianças. À beira do córrego, pai e mãe, criaram a família — os filhos na enxada, as filhas na enxada e no fogão, e logo que deram conta da tarefa, os dois velhos morreram. Os herdeiros repartiram a terrinha entre si e como tocou quase nada a cada um, cada um vendeu a sua parte e gastou o dinheiro para começar a vida. As filhas se casaram, os filhos saíram mundo afora, procurando trabalho e mulher; menos o Chico, que se casou com gente da vizinhança e ficou teimando no seu pedaço de chão, até o dia em que lhe nasceu o segundo filho, um menino.Nessa quadra da vida, deu-lhe tanta doença em casa, a ponto de passar um ano sem trabalhar, e gastando. Por fim, quando os doentes sararam, viu-se endividado até os cabelos e teve de vender o chão e o rancho, para pagar os empréstimos.
Do pouco que possuía, só salvou o crédito, o mais perdeu tudo, até o nome que o pai lhe deixou: o córrego pegou-lhe, para sempre, o nome que, por sua vez, recebera de um macuco. A princípio era chamado — o Chico, do Macuco; depois — Chico Macuco, e por fim, só Macuco...
Mas de seu, ficou ainda com muita coisa — ficou com a obrigação e com a necessidade. Então, passou a mão na enxada, arrastou a família, foi morar em casa alheia e trabalhar no chão dos outros... Foi dar a troco de um jornal de miséria, toda a força dos braços e tudo que é tempo de luz no dia, só guardando para si as sombras da ave-maria e o escuro da noite.
E passaram muitas luzes e sombras, muita escuridão passou enquanto o jornal ia ficando no mesmo ser e a família nas mesmas privações. Mas, ao tempo que o camarada Macuco descansava um pouquinho, ia olhando à roda de si e, com o passar dos dias, foi à lavoura de todas as plantas, a conhecer a força das terras, a tirar proveito do ajutório do sol e da chuva.
O fazendeiro gostou do camarada, lhe deu casa, lhe deu serviço, e pagava pontual. A casa era de sapé, ficava na vertente, numa chapada da grota, à beira de uma terra preta, gorda, em que ninguém nunca plantou. Não tinha horta nem arvoredo nem cercado em torno, tinha a bica d'água à porta da cozinha, perto do mamoeiro velho esgalhado. O mamoeiro fazia as vezes de galinheiro, a galinha de pintos deitava-se debaixo dele; o ninho de jacá estava pendurado nele; toda a criação dormia empoleirado nos seus galhos e se abrigava do sol ou da chuva embaixo da sua folhagem.
A casa tinha dois quartos e cozinha; os quartos se encheram com as camas e com a canastra frasqueira, a cozinha ficou vazia, era maior, dava para o fogão e para se morar. Mas, porém, tudo era pobreza e pouquinho.
De manhã cedo, a menina e o menino iam à fazenda buscar o que era preciso — leite, couve, cebola de folha. Leite vinha por paga, o mais era dado; ovo, sempre havia algum em casa. A fazenda não ficava longe, as crianças iam sozinhas, mas era tão pequenas, que se sumiam no meio da estrada. A menina ia indo, carregando o caldeirãozinho, parava, olhava para trás e andava outra vez, arrastando os pés, sem brincar, sem falar; o menino fazia a mesma coisa mascando a ponta dos suspensório de tira de pano...
Nestas aperturas, o roceiro Macuco entendeu de dar um jeito na vida para poder vestir a família. O ganho não lhe deixava sobra: na vila só comprava mantimentos para a semana e, as vezes, um doce para as crianças: três biscoitinho de amendoim, duros e velhos, mas o roceiro não perguntava a idade deles, perguntava o preço.
— Três por duzentos réis? Ota!
— ...Mãe, o que é que tem em riba do doce?
— Açucre.
— Açucre antão é duro? Boba...
Quando a precisão era grande, comprava também algum remédio, pouco porém. Se um bicho venenoso mordia as crianças e elas metiam as unhas, tostava um folha de mato chimango e punha em cima da inflamação: se as bichas alvoroçavam, aplicava na barriga das crianças um empacho de erva mentruz; se a mulher sentia dor de cabeça amarrava na testa um lenço molhado em pinga com alcanfor; se ele, Macuco, ficava mofino, amarrava só um lenço na cabeça e aguentava... Mas de qualquer jeito precisava vestir a família, então pedia a Deus forças para trabalhar, mas a força brota da terra, entra pela boca, enche o peito, sai pelos braços, desce pelo cabo da enxada e entra na terra outra vez.
Ao anoitecer, o roceiro Macuco voltava para casa, com a enxada no ombro, carregando o peso da canseira aí se encontrava com a mulher, que também ia indo com as crianças, cada uma carregando o seu feixe de lenha, e todos seguiam, juntos sem dizer uma palavra...
De tanto maturar, teve uma ideia que dava esperança: plantar um fuma, na chapada da vertente, em redor da casa, de meias com o fazendeiro. Plantação alqueire de chão, pouco mais ou menos. Então, foi procurar o dono da terra, o fazendeiro, e explicou-lhe:
O chão é de boa face; a terra é própria; está em roda da minha casa; a mulher me ajudando, nós dois podemos tratar vinte a vinte e cinco mil pés de fumo, que é mais que pode levar o dito chão. O senhor me adianta as despesas e, no fim, nós partimos. O lucro é bom, mas o seu há de ser melhor porque o fumo dá soca e, a terra sendo boa, a soca também é — dá bem e serve bem o que dá. Ainda, por cima, a terra do fumal fica mais estercada, mais macia; as folhas velhas do fumo, a bagaceira dos talos, das velhas, que a planta vai largando, tudo engorda a terra que, depois,dá com fartura, sem trabalho. Macuco fez a sua proposta, explicou tudo muito bem, induzindo o fazendeiro a experimentar a meação na lavoura do fumo. O dono só entrava com a terra e abria um crédito ao meeiro; mesmo assim titubeou, imaginou, perguntou tanta coisa, e deixou a resposta para mais tarde. Mais tarde aceitou com uma dose de interesse e um pouquinho de desconfiança.
— O que for da fazenda, eu vou te fornecendo e assentando; para o que a família precisar — mantimento, remédio e roupa — eu te dou um crédito na vila; na apuração do negócio,você paga tudo o que comprou. Está combinado: é negócio a meias; tiradas as despesas, parte-se o lucro, a soca me pertence, fica de fora. Contrato escrito, não é preciso, nós somos de fiança um para o outro.
Acertaram. Macuco deu parte à mulher e como já era mês de agosto caiu, sem demora, em cima da terra. Primeiro, formou os canteiros para a semeadura, depois, colocou por cima deles uma camada fina de gravetos, folhas secas e lenha miúda; ateou fogo em tudo e, logo que a queima se acabou, os canteiros ficaram cobertos com uma camada de cinza. Deixou esfriar a cinza, espalhou esterco de curral por cima e revirou a terra na fundura de meio palmo. Assim, a terra ficou pronta para a semeadura, livre de pragas e das sementes do mato daninho.
Até chegar setembro — o que é o tempo de semear-se o fumo — Macuco voltou a capinar a roça, e capinou quatro semanas a fio. O tempo chegou, ele mexeu aplainou a terra, semeou a sementes nos canteiros, que a fechou a meia altura. para evitar o estrago das galinhas. Até passar dois meses — prazo que a planta pede para nascer e ficar no ponto de mudar-se — Macuco e a mulher levaram os dois meses no serviço da enxada, pois, quando iam chegando ao fim, voltava ao princípio, para repassar a capina.
O chão era grande, o tempo curto, mas o mato era maneiro e a paciência muita, para aguentar a mesma labuta todos os dias, e todos os dias o mesmo tempo: solão desde manhã até de tarde, sem chuva para refrescar a terra, sem nuvem para tapar o sol.
A noite já dava sinal, e o roceiro Macuco ainda lavrava a terra para a lavoura de meação. A mulher estava ao lado dele e batia enxada também, ajeitando a capina, ajuntando um monte num lugar, outro mais adiante. O menino e a menina trouxeram o fogo para queimar o cisco. O chão estava limpo em derredor, o céu também estava, a fumaça branca subia das fogueiras, acompanhando a viração.
O roceiro trabalhava calado, reparando; só existia para a enxada e para o silêncio; a vida se lhe concentrava em torno, não tinha olhares distantes... Tudo quanto lhe pertencia estava a seu lado: a mulher, os filhos, o cachorro, o fogo e as galinhas ciscando adiante da sua enxada — seu lar vinha trabalhar com ele, e se espalhava pela terra da sua lavoura.
Macuco suspendia o trabalho, deixava cair, a um lado do peito, o cabo da enxada na palma da mão — amarelo como cana de reino — cuspia na palma da mão — amarela e lustrosa — e olhava o ar... Todos os homens que trabalham a terra têm olhar sem vida; os outros não. Uns tem olhar de espanto ou de mistério; outros de sonho ou da mágoa; outros de indiferença ou desengano; o trabalhador da terra tem olhar de espera...
Quando o sol se escondia, as galinhas era as primeiras a se recolherem ao seu mamoeiro, depois, a mulher com as criança e o cachorro, e por último, o roceiro Macuco. Pela terra, a tarde espalhava as sombras, e os últimos ventos do inverno espalhavam a fumaça branca das fogueiras de cisco.
A mulher acendia a lamparina de querosene, as crianças lavavam os pés na gamela d'água, comiam leite com farinha e iam se deitar na mesma cama, assim como vinham da capina; o roceiro e a mulher, lavavam os pés na mesma água, bebiam uma tigela de café com rapadura e farinha e iam dormir na mesma cama, assim com vinham da terra...O cachorro pulava para cima do fogão e ninguém ouvia o ressonar do homem nem o rosnar do cão, porque o roceiro cansado tem sono de pedra e o cachorro magro, esfomeado não rosna.
Daí a pouco clareava o dia; o roceiro Macuco abria a porta para a luz entrar; as galinhas desciam do mamoeiro; uma neblina rasteira cobria a terra preta da campina. O trabalhador bebia outra tigela de café com rapadura e farinha, batia a pedra, soprava na isca, acendia o cigarro, pegava na enxada e voltava para a terra. Ia sozinho, que os mais ficavam em casa — a mulher e as crianças — cada um com a sua a tigela, e o cachorro com um pedaço de angu frio; as galinhas, por sua conta, procuravam o que comer.
O tempo estava firme, o sol subia, rendia o serviço do roceiro, e a mulher mexia o almoço. A menina permanecia de cócoras ao pé da porta da cozinha, imóvel e calada, depois, se levantava, coçava a cabeça, espreguiçava e ia se acocorar mais adiante. O menino cortava um gomo de mamoeiro para fazer um pito comprido; neste meio, um pássaro preto cantava no pinheiro seco, o menino tirava o pito da boca, assobiava, arremedando o passarinho, e os dois ficavam cantando juntos.
No caldeirão de ferro, desde cedinho, já se cozinhava o feijão, e a mulher punha ao lado dele a panela de barro, de fazer arroz. Mexia um pouquinho cada qual, dava uma voltinha, atiçava o fogo, espiava dentro das panelas e ia se encostar à porta do terreiro. Ficava olhando o Chico, parado no meio do terreno preto, descansando um pouco. O marido, com chapéu de palha rasgado, enfiado na cabeça, a roupa pendurada no corpo, mal comparando, imitava um judas de espantar passarinhos de arrozal... Voltava ao fogão, mexia outra vez a panela de arroz, picava as couves e ia buscar os torresmos.
Pouca panela, pouca comida, trabalho pouco — logo o almoço ficava pronto. A mulher dava mais uma voltinha, empilhava três pratos de folha, à beira do fogão, e gritava pelo Chico. E assim que o marido chegava, cada um recebia o seu prato, a sua colher, cada um ia se acocorar num canto da cozinha, e ninguém dizia uma palavra. A mulher servia o prato seu, dela, e ficava de pé, encostada ao fogão, comendo. O cachorro, sentado sem se mexer, olhava o prato do menino, depois, olhava a menina; por fim, olhava só para a mulher e ficava, com os olhos compridos, esperando.
Os pratos de folha se empilhavam de novo à beira do fogão; o roceiro Macuco puxava um tamborete, sentava-se, olhava a mulher e dizia:
— Agora, vamos descansar um pouco...
Lá fora, o joão-bobo cabeçudo vinha voando com a sua companheira, pousavam no mesmo galho da árvore e gritavam simultaneamente, um ao outro: " Currupiro!" "Currupiro!" Depois, se achegavam, corpo com corpo e ficavam imóveis, bem juntinhos...
O roceiro Macuco não afrouxou na labutação nem perdeu a hora do dia, afora os domingos, que tinha de ir à vila buscar mantimento e querosene, tudo fiado. O fazendeiro respondia pelos seus gastos, é certo, mas precisava ter sempre dinheiro para comprar uma ou outra coisa de necessidade. Então, vendia frangos, ovos, juás, pinhão, fruta e tudo quanto o fazendeiro deixava tirar do mato, sem pagar.
E foi indo nessa toada, até preparar a terra e chegar o tempo da plantação das mudas. Aí ele e a mulher não largaram mais o chão — abrindo cova e plantando, abrindo cova e plantando. Os dois ficaram tão mestres na abertura das covas, que conservavam, entre uma e outra, a distância certinha de cinco a seis palmos, o que era preciso ser feito, por via de ser a terra de boa qualidade.
O plantio pedia muito cuidado: só se aperta, na terra, a raiz e não a haste; portanto, para ajudar, eles ensinaram os filhos, e os filhos plantavam com delicadeza e perfeição, que as mãos das crianças não tinham tamanho nem força para machucar as plantas novas.
O tempo corriam bem todos os dias, e assim que o campo ficou plantado, choveu uma chuva mansa, fresca, criadeira, as mudas se firmaram nas covas, as folhas se aprumaram e principiaram a crescer à vista dos olhos.
O roceiro e a mulher redobraram de cuidados e de interesse, tratando com enxada a terra da plantação, removendo a areia das covas e qualquer outra coisa que pudesse prejudicar o desenvolvimento da planta. Os filhos continuavam aprendendo e ajudando; sabiam apanhar as folhas que iam morrendo e secando, na parte inferir dos pés de fumo, a arrancar o mato com as mãos, sem ofender uma folha que fosse.
Toda a gente pensava só no fumal, e ninguém viu que o fumal tomou conta da terra, cresceu, cresceu gordo, mole, viçoso: tinha pé do tamanho de um homem, tinha folha larga, de mais de gêmeo. Nem um pé falhado, nem uma folha praguejada. A terra preta, macia e boa, criava, por igual, o fumo, planta que quer força do chão para vingar.
O dono da terra foi ver a lavoura, andou abaixo e acima, espiando aqui e ali; calculou, com uma olhada, o valor da colheita, gostou do que viu mas não disse nada. O roceiro Macuco, que estava junto dele, também e calava. Por fim, ao voltar para a fazenda, o homem disse isto:
— Como é que vai o seu gasto, na vila?
— Vai indo, eu compro só meizinha e mantimento...
— É isso mesmo. As coisas estão ficando ruins, a gente precisa minguar as despesas...
O fumal começou a apendoar; as flores tinham pressa de nascer; então, marido e mulher deixavam o trabalho e se recolhiam, esperando que também os botões apontassem logo. E todas as manhãzinhas, voltavam juntos a verificar se o fumal estava abotoado, até que, um dia, encontraram os primeiros botões nascidos de madrugada. Aí, começou a capação, que é a desponta que se faz para os pés se tornarem iguais, e para dar força às folhas.
O pai, a mãe, os filhos, levantavam-se ao romper do dia e iam para a desponta; almoçavam e iam para a desponta; de noite, deitavam-se para dormir, com os dedos doloridos de tanto despontar, de tanto arrancar um botãozinho tão mole e tão mimoso!
E assim, despontaram muitos mil pendões; os dias foram passando, e chegou o tempo da desolha — que é o trabalho de se tirarem os brotos que nascem entre as folhas e a haste — trabalho incessante porque o fumo brota sempre. Enquanto o broto é novo, se quebra facilmente com os dedos por isso as mulheres e as crianças ajudam muito; mas é preciso se desolhar com cuidado, para não maltratar as folhas.
As crianças aprenderam o serviço, e cedinho já iam para a lavoura. O fumal mandou na casa; levou a gente do roceiro para o seio da sua folhagem; governou a boca e a força da família; mandou em toda a gente, e toda a gente lhe mostrava respeito e amizade, porque não parava nem se cansava.
A mulher e o marido já não trabalhavam pensando só no ganho, no lucro prometido; a ambição deles era também a ambição do pai que quer ver os filhos criados; do criador que quer criar o seu gado; do trabalhador que deseja concluir sua obra. Macuco percorria o fumal, examinava pé por pé; todos eram irmãos, cresceram juntos, porque a força era igual naquela terra e tanto. E o roceiro quedava, olhando o chão preto, fincava no chão o dedo grande do pé e remexia, com ele, a terra fofa, como se fosse um porco fossando.
A terra, ao redor das plantas, estava coalhada de borboletas arrancadas. A mulher e as crianças tosquiava, tosquiavam, até ficaram com as mãos amortecidas, com um mau jeito nos pulsos, com as unhas descarnadas, doídas, de tanto quebrar o brotinho...
— Corta, gente!
— Dói, mãe...
— Corta, gente!
Dessa maneira foram arrancadas milhares e milhares de borbulhas, até se acabar o ano e começar o outro. Mas antes que viesse a colheita, o meeiro Macuco tratou de construir o rancho, livre de sol e de chuva, com os seis andaimes para a seca das folhas do fumo. O rancho era coisa simples: quatro esteios de pouca altura, um pau de cumeeira, uma coberta de sapé, dos dois lados, até o chão, e dentro, os varais para se estenderam as folhas colhidas. Como na fazenda não havia sapé para a coberta, o fazendeiro mandou cortar no vizinho, e pôs na conta das despesas: a madeira — meia dúzia de varas — foi tirada ali mesmo...
Chegou o mês de maio, As folhas da parte inferior dos pés de fumo começaram a amadurecer tomando uma cor amarelada ao mesmo tempo que a parte de cima- a feição da folha — ficava toda empipocada.
Principiou a colheita. Enquanto o roceiro limpava a cultura — que a colheita se deve fazer no limpo — a mulher apanhava as folhas de vez, que as crianças iam transportando para o rancho...
— Mãe, ocê é que nem formiga.
— Ocê é que nem formiga-carregadeira...
A colheita se faz aos poucos, e leva tempo — cada pé dá duas, três e mais apanhadas. As folhas vão sendo penduradas nos varais do rancho, onde ficam uns cinco dias, para depois se tirar, com todo o cuidado o talo de cada uma. O talo cai com facilidade, basta dobrar a folha sobre ele mesmo para logo se separar.
Então se faz a torcida, o cordão e, por fim, o rolo, que se entrega ao fabricante.
O fazendeiro foi passear na roça para ver a a colheita e, decerto gostou porque se mostrou conversando. Aí, o Macuco lhe disse que não podia dispensar o ajutório de camarada. O fazendeiro concordou, e resolveu mandar ver por conta da meação um prático no serviço de torcer e de encordoar o fumo.
Logo depois, veio um prático trabalhador e diligente. A apanha levou um avanço; as crianças aprenderam, também, a estender e destalar as folhas e, desse modo, todo o mundo trabalhava em tudo, e tanto trabalharam que um dia a colheita se acabou, todas as folhas forma torcidas, encordoados, enroladas e entregues ao fabricante.
O fumal ficou que era vara só...
No mês de julho, o fabricante deu conta do fumo, preparado e enrolado, A quadra era boa; o fazendeiro aproveitou e vendeu bem num lote só. Mandou tirar as contas do Macuco tanto as da vila, com as da fazenda; descontou as despesas feita; apurou a rendição e acertaram o trato. A parte que tocou a cada um foi de um conto e muito, quase dois. A do fazendeiro saiu inteirinha, e a do roceiro. Macuco, descontadas todas as despesas, deu-lhe para salvar um jornal de cinco mil e quinhentos — não se contando a o ajutório da mulher — com uma sobra de setenta e cinco mil réis...
O fumal produzira com abundância de compensar, mas o trabalhador ficou na mesma. A meação só lhe deu para viver um ano, com jornal um pouquinho melhor que jornal de enxadeiro... Está certo. A mulher e as crianças ficaram doentes, a família teve de comer e o dinheiro num ano subverteu-se.
O fazendeiro não explorou trabalho de ninguém, com maldade ou com imposição, fez negócio limpo e tratado. Não lhe cabia culpa pelo sucedido; tanto que, vendo o meeiro desapontado, sem lucro no bolso e pior de miséria, ficou com dó e lhe deu uns cem mil-réis, do seu bolso.
— Mas olhe que este dinheirinho que estou te dando não tem nada com o trato da meação. Trato é trato.
O roceiro Macuco recebeu o dinheiro, com os olhos no chão, sem dizer uma palavra; por fim, levantou a cabeça e disse:
— E agora, o que eu hei de fazer?
— Pois, uai! você continua aí, vai trabalhando de jornal: cinco mil-réis a seco. E já pode pegar, amanhã, na corta do fumal, para a soca.
O trabalhador não disse nada a ninguém, nem permitiu que ninguém lhe dissesse nada. De tarde, foi à bica, amolou a foice e, no outro dia cedo, principiou a cortar as hastes desfolhadas do fumal colhido. O fumal velho, podado em agosto, torna a se enfolhar, dá boa soca e seve bem o que dá...
A poda se faz conservando cada pé na altura de três quartos, mais ou menos. A princípio, o roceiro não cortava na medida certa, depois, pegou a toada e a foice ia e vinha, cortando as plantas na mesma altura. O homem, sem se interromper, avançava para a frente, para a direita, para a esquerda, golpeando com braçadas largas. Olhando de longe, parecia um possesso, de foice em punho matando a torto e a direita. Dir-se-ia que o lavrador enfurecido se vingava da planta. Mas o roceiro Macuco não era homem para destruir os frutos da terra, ele reconstruía a sua obra de lavrador...
Acabou-se a poda. Quando a última vara caiu, o roceiro parou na orla do campo arrasado, cruzou os braços e, apoiando-se no cabo da foice, ficou matutando e contemplando.
À sua frente estende-se o chão preto, a terra limpa, seca, ouriçada: nem um fiapo de capim, nem um olho de broto espiando; cada pé de fumo podado virou um estrepe agudo. Mas as raízes estão vivas no fundo da terra, esperando que voltem as chuvas criadeiras do tempo das brotas; então, tudo vai outra vez nascer e verdejar, crescer e ocupar a terra erma. A soca vai cumprir a promessa do roceiro Macuco...
De repente a tarde entristeceu.
Pelos ouvidos do roceiro passa zunindo o vento que vem trazendo de longe ma nuvem cor de chumbo. Macuco levanta a cabeça e acompanha com a vista a nuvem escura que vai lenta pelos ares...
A ventania invade os matos,
balanceia os pinheiros duros, fustiga desde a graminha até a perobeira que sobe
céu acima, enche o espaço e vai levando, para mostrar mais adiante, a todos os
trabalhadores da terra, a nuvem escura cor de chumbo, que prenuncia o tempo
fecundo das águas.
---
Iba Mendes Editor Digital. São Paulo, 2025.